Edição de Sábado: A vacina contra a mentira
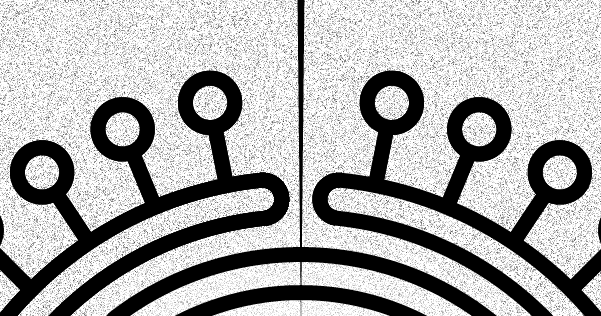
Ouvir o doutor em microbiologia Atila Iamarino discorrer sobre a pandemia de Covid-19 e seus efeitos é de uma familiaridade perturbadora. Por um lado, sua voz serena e seus argumentos sensatos reconfortam. É como escutar um amigo. Ao mesmo tempo, causam uma sensação de reprise de um dos momentos mais desafiadores, sem qualquer medo da hipérbole, deste século. Um tempo em que o vírus do negacionismo adoecia a humanidade e Atila e outros divulgadores científicos tentavam ser anticorpo num organismo descontrolado — o das redes sociais.
Nesta entrevista, Atila revisita aquele período e o que aprendeu, com sua abordagem científica, sobre as plataformas digitais enquanto circulava tentando combater a desinformação. Como alguém disciplinado na lida dos fatos, é capaz de enxergar e atribuir o bem que as redes sociais proporcionaram no auge da pandemia. Mas também de diagnosticar o mal. “Precisamos responsabilizar as pessoas pelo que elas falam. Eu não tenho problema algum em responder por tudo que falei. Mas também quero responsabilizar quem falou para tomar cloroquina, para não tomar vacina, que podia sair na rua, que pulga transmitia Covid”, provoca. Ele ainda comenta sobre o novo estágio da doença com o fim da emergência global e as consequências de se apostar com um vírus novo. Confira os principais trechos da entrevista.
Como você recebeu a notícia de que a OMS declarou o fim da emergência global da Covid-19?
Sendo muito franco, não gerou muita coisa em mim. Para ser bem feita, essa transição de sair da emergência de saúde tem de ser gradual, pós-fato, passando por um período com a situação controlada, para depois, retrospectivamente, concluir que se está numa fase mais segura. Se lembrarmos bem, para a população geral, já tínhamos passado por um momento de “tranquilidade” desses em novembro de 2020. Em Manaus, desde maio daquele ano as pessoas estavam saindo sem máscara, achando que o pior tinha passado — e com muito incentivo de quem queria ver a população de volta na rua. Na parte técnica epidemiológica, para se suspender a emergência tinha de haver um alinhamento de fatores: uma imunidade prevalente na população, que felizmente atingimos bem com as vacinas; e sinais epidemiológicos de que a situação está controlada há alguns meses, como mostram as ondas deste ano, que não foram surpreendentes como as do ano passado. Esse alinhamento tem acontecido pelo menos desde o começo do ano. Então, de certa forma, era esperado que a declaração da OMS fosse acontecer.
Você consegue fazer um balanço de como a pandemia mudou a tua vida profissional e pessoal?
Não sei extrapolar para o longo prazo, porque foi um momento de transição social que envolve muito mais gente. Mas eu muito precocemente atingi um público e um espaço mental das pessoas que eu só atingiria normalmente depois de décadas de trabalho. Faço divulgação científica há 16 anos; me coloco como comunicador na internet há pelo menos 10; e vivo exclusivamente disso há sete. Esperava atingir esse grau de reconhecimento em décadas. Pulamos essas etapas a um custo horrível. Esse salto, para mim, aconteceu da pior forma possível, que foi a de ser necessário. O grande problema não é as pessoas me reconhecerem ou me procurarem. É elas não terem melhores alternativas durante a pandemia. Eu não sou uma boa alternativa de comunicação. Consigo passar a mensagem em certos aspectos, fazer a ponte entre achados científicos e as consequências sociais disso. Mas não necessariamente isso é o mais indicado para as pessoas na pandemia. Ali, a gente precisava de orientação sobre ficar em casa, uso de máscara, fechamento ou não de escolas, de ambientes de trabalho. Isso não teve. Acabei preenchendo esse espaço para o qual eu absolutamente não sou qualificado e sequer tinha amparo profissional de uma instituição, de órgãos públicos. Em outros países, isso foi feito por pessoas que vinham de grandes instituições, do Ministério da Saúde. Essa parte eu achei muito, muito ruim. Mas tenho orgulho de ter tido esse papel.
Ele acabou te tornando alvo também de ódio nas redes. Como você lidou com isso?
Eu já sabia que devia esperar isso por acompanhar e fazer divulgação científica antes. O que me trouxe para a comunicação de ciência foi estar na universidade falando para as pessoas que elas deviam estar nas redes sociais, em outros meios, dialogando com a população. Em 2019, dei um curso de divulgação científica na Física da Unicamp. Uma das aulas foi sobre como acontece a desinformação em redes sociais e o exemplo que eu dava é o da Greta Thunberg. Como não dá para desqualificar o que ela fala, não dá para pintá-la como agente de interesses políticos ou usar esses discursos que geralmente se usam para atacar quem tenta informar a população, os ataques contra Greta viraram pessoais, sexuais — e ela tinha 16 anos. Não me coloco como a Greta, não, mas com essa categoria de ataque eu já tinha uma certa familiaridade. Dá para entender a parte não orgânica das redes sociais vendo a cascata de desinformação. Primeiro, políticos e influenciadores me atacam. Isso é replicado naquela imprensa que tem um papel de dar amparo a eles. Aí, isso é picotado e replicado em redes sociais. Em seguida, vêm os memes e, então, os bots, com 20 comentários me atacando ao mesmo tempo, com nomes parecidos. Eu “mutava” ou bloqueava esses perfis.
Foi uma abordagem científica.
Sim, e isso é feito para você perder tempo, ficar se desgastando, achando que aquilo está realmente acontecendo, quando não está. Parte disso informava o meu trabalho. Eu passava a semana replicando os últimos achados no Twitter e testando para ver em qual analogia as pessoas mais engajavam, qual tuíte era mais replicado, que dúvidas as pessoas mais estavam mandando. Mesmo errar no Twitter tinha um papel para depois eu alinhar o discurso na live. Era um campo de teste e essas pessoas, ou esses bots, quando me atacavam, estavam me dando, sem querer, os melhores argumentos para eu replicar depois. Quando eu ia dar uma entrevista no jornal ou fazer a live, eu já sabia, pelos ataques, quais eram as linhas das mentiras que tentavam emplacar com base naquele fato. Essa contra-narrativa me dava uma maneira de treinar, desenvolver o argumento mais proveitoso para comunicar aquela informação, já tentando não dar margem para desinformação. Os perfis que desinformam soltaram várias tentativas de narrativa para ver qual ganhava tração. Temos que usar esse meio também para fazer o contrário: identificar as mentiras que vão contar e já começar a combater ali na raiz. Era isso que eu tentava fazer.
Isso tudo te afetava emocionalmente?
Pelo lado pessoal, eu tinha de entender que pessoas reais estavam sendo impactadas e algumas ficariam chateadas, porque eu estava falando coisas que mexem com a vida delas, vindo de um espaço técnico, furando várias bolhas. Vou dar um exemplo bem instrutivo. Os meus tuítes que mais tiveram engajamento foram comunicações pessoais, quando eu me vacinei e quando meu filho nasceu. Fora isso, o tuíte que mais repercutiu foi um de abril de 2020, sobre um artigo que falava que o período de fechamento e abertura e de complicações da pandemia duraria vários anos. Era quando estava todo mundo, deputado, economista, falando que em 15 dias as coisas iam reabrir. Para quem já estudou vírus, há certos fatos que são relativamente óbvios: uma doença nova, altamente transmissível, contra a qual as pessoas não têm imunidade prévia e não há vacina, dá para saber que a vida só volta ao normal depois que tiver uma imunidade suficiente. E isso implica em anos, num ótimo cenário. Veja, o que fez a gente sair da emergência são as vacinas. Sem elas, ainda estaríamos vivendo o pesadelo. É só ver o quanto morre de não-vacinado nos Estados Unidos, no Leste europeu e aqui. Bom, em abril de 2020 começaram a sair os primeiros estudos modelando isso. Naquela época, dizer que levaria anos era a pior notícia. Esse estudo sai e formalmente delimita que levaria ao menos até 2022 para a situação estar sob controle. Eu li o estudo, entrei no Twitter e comuniquei. Fui cuidar de coisas em casa e ainda postei que voltaria para fazer mais comentários depois de ler o estudo todo, trazer mais detalhes. Voltei horas depois e estava pegando fogo, foi parar no trending topics, tinha filho do presidente me atacando, deputado, senador, filósofo... um caos.
Qual foi tua reação?
Foi muito bom eu não estar presente nisso tudo, porque não mudou nada do que eu tinha para falar ali. Mas eu tinha que entender que o que era óbvio para mim, dentro da minha área, não era óbvio para a maioria das pessoas. Não era isso que estava sendo discutido na imprensa, e socialmente ainda não tínhamos feito as pazes com esse diagnóstico. Aprendi que tem coisas que não dá para falar de supetão. E tem gente muito atenta e preocupada em se informar, que vai acompanhar cada coisinha que eu postar ali. A OMS levou várias dessas, teve falas e mais falas picotadas, distorcidas, postadas e replicadas pelo ex-presidente, por ex-ministro, para distorcer e levar as pessoas para a rua. Nessa guerra de desinformação, vai ter muita mensagem errada, mesmo que se faça um bom esforço. E eu tinha que entender que vai ter gente que vai me odiar, que não aguenta olhar pra minha cara, porque eu não estou dando a melhor das notícias. Paciência. Para o meu bem-estar, eu saía das redes sociais na maior parte do tempo. Só ficava atento para o que profissionais iam me falar. Se alguém da área de saúde me corrigisse em algo, eu tinha de estar disponível para, na hora, tirar aquela informação do ar.
Com a tua experiência, o que tem pensado sobre regulação das redes sociais?
Não tenho acompanhado tudo que está embutido no PL 2630. Não sei dizer se ele é o melhor mecanismo para conseguir o que eu quero propor em seguida. Nem sei avaliar o projeto politicamente. Mas, pelo lado de quem comunica em redes sociais, elas são indissociáveis da conversa de como as pessoas se informam hoje. Eu não teria espaço para falar de Covid como eu falei em qualquer outro lugar que não fosse o YouTube. Só ali as pessoas tinham uma ou duas horas, toda semana, para ver aquele vídeo, assistir quando quisessem, na TV de casa, com a família. Não sei de outro meio que me permitiria informar as pessoas constantemente, com informação atualizada, daquela maneira. As plataformas têm muito valor. Mas há dinâmicas cruéis lá dentro, que geram muita desinformação. Tem coisas que mesmo que as plataformas se esforcem para remover vão ter uma influência negativa nas pessoas. O Twitter, quando tinha gente interessada lá dentro, saiu verificando jornalistas, gente da área de saúde, quem estava passando informação na pandemia. O YouTube tirou muito conteúdo do ar, mas foi obrigado pela Justiça a devolver live do ex-presidente falando de cloroquina. O Instagram colocou aviso da OMS em posts. Mas, por exemplo, no auge do isolamento, tinha influenciador no Instagram postando uma festa, porque o perfil da pessoa dependia de ela continuar ativa, engajando, mesmo quando isso não era compatível com o momento... Isso era muito mais nocivo para as pessoas do que algumas desinformações. E não infringia normas ou termos das redes sociais.
E o que você propõe?
Quando o YouTube tira uma live do ar porque infringe seus termos e a Justiça vai lá e fala que tem de botar essa live de volta, o que falta é uma lei dizendo o que pode e o que não pode ou como agir nessa hora. Houve vezes em que o pessoal fazia caravana de ataque em live minha, dava report de violência, pedofilia, vinham milhares de perfis denunciar. Aí, a live saía do ar. Para minha sorte e por competência deles, o YouTube estava junto, presente, e colocava a live de volta em pouco tempo. Foi uma rede social muito importante nesse momento para continuar informando. Mas eu contei com a boa vontade deles, podia não ser o caso. Tem gente com conteúdo tirado do ar sem saber a razão e que não vai ter uma resposta sobre isso. Então, é preciso uma lei que diga o que pode ou não; informe as redes sociais para poder tirar as coisas do ar; e informe quem teve conteúdo derrubado sobre por que isso aconteceu. Esse meio de campo hoje está na mão da boa vontade das redes sociais e algumas têm mais boa vontade do que outras.
Prova disso é que muitas dessas medidas que você mencionou só foram tomadas depois de enorme pressão social.
Sim, por pressão social e dos patrocinadores, que são hoje quem tem a maior voz do que pode ou não nesse meio. Quem põe dinheiro no Instagram fala: “não toleramos nudez” e basta para a plataforma cortar até mais do que o necessário para garantir que não tenha um mamilo aparecendo. Ou seja, eles sabem fazer isso. A questão é que quem decide hoje são os patrocinadores. Precisamos ter um mecanismo de fazer isso socialmente, num bom debate com outras pessoas envolvidas, além dos 15 engenheiros lá no Silicon Valley para definir o que é permitido. Hoje, há um grupo muito pequeno de pessoas decidindo o que bilhões no mundo inteiro podem ou não ver nesses meios.
O teu conceito do que é liberdade de expressão mudou com a pandemia?
Não, mas meu conceito de responsabilização pelo que falamos, sim. Tem muita gente que quer me responsabilizar porque eu coloquei pânico nas pessoas, porque eu falei que milhões iam morrer. Ótimo. Então, vamos responsabilizar as pessoas pelo que elas falam. Eu não tenho problema algum em responder por tudo que falei. Mas também quero responsabilizar quem falou para tomar cloroquina, para não tomar vacina, que podia sair na rua, que pulga transmitia Covid. Vamos pôr em pratos limpos a liberdade de falar o que se quer. Isso inclui conselhos de classe, de medicina, órgãos públicos. A consequência dessas coisas tem sido absurda e não estamos corrigindo. Não punimos quem desinformou. Isso dá margem para que, na próxima pandemia — e vai haver próximas, o vírus continua evoluindo —, esse comportamento se repita. Vai se repetir com mais mecanismos, novas ferramentas que geram texto e mentiras a um custo insanamente baixo. A gente caminha para uma versão piorada nos próximos anos, se não agirmos agora para punir e criar mecanismos de impedir. Passamos pela primeira pandemia em que a ciência avançou rápido o suficiente para desenvolver vacinas e tratamentos novos. Mas também foi a primeira pandemia em que as pessoas escolheram não se vacinar por causa de mentiras.
Quem as espalha?
Conforme a pandemia aconteceu, os movimentos foram se organizando. Quando fiz a primeira live ou quando eu fiz o primeiro Roda Viva, tinha gente de todos os espectros políticos replicando aquela informação. De repente, começa o movimento da cloroquina, vem essa rotulagem de que fechamento e máscara é coisa de comunista e o movimento se organiza com o gabinete paralelo, com falsos especialistas, trocando o ministro da Saúde. Criou-se todo esse movimento de desinformação e ele continua agora, ainda está organizado, muito bem articulado e tem conotações políticas. Não é porque a gente teve uma troca de governo que ele vai se desmanchar magicamente. Na próxima pandemia ou crise que depender de ciência, como já está acontecendo com mudanças climáticas, essa rede de desinformação está estruturada, financiada e azeitada para trabalhar.
Qual seria a vacina para a desinformação, além da responsabilização de quem a espalha?
A ciência passa por esse dilema todo dia. Não temos um mecanismo em grande escala para converter pessoas que foram desinformadas. Para resgatar quem caiu na toca do coelho da desinformação massiva e se radicalizou é preciso um trabalho uma a uma. Não tem muita volta. O que podemos fazer é prevenir que as pessoas caiam nisso. Isso envolve educar, o que é um trabalho de décadas e só vai acontecer com a geração que está se educando agora. E impedir que as pessoas recebam desinformação, o que vem via regulação de rede social e responsabilização de quem fala nesses meios. Não sei de outro jeito.
Você mencionou novos mecanismos de desinformação. A inteligência artificial entra aí?
As pessoas discutem muito que a inteligência artificial pode roubar empregos ou que até criar uma inteligência própria e dominar a humanidade. Esse medo pode até ter um fundo teórico importante, mas está longe de ser colocado em prática de forma razoável. Parte disso é até um pitch de financiamento. Mas tem uma discussão mais direta e pertinente para nos prepararmos para regular: o quanto o conteúdo gerado de forma simples, barata e artificial pode inundar os meios, para o bem e para o mal? Conteúdo falso gerado por inteligência artificial faz com que toda essa rede de desinformação opere de forma muito mais barata. Se antes alguém tinha de pagar para pessoas fazerem postagens falsas, acompanhando agentes de saúde para retrucar, desinformar, questionar o que estão falando, agora é só pagar um programa e gerar essas mensagens. Uma busca no Twitter mostra que já tem um monte de perfil gerando postagem automática usando ChatGPT, dá para rastrear. Perfis falsos. A facilidade, a velocidade e a quantidade que essas redes podem gerar desinformação daqui pra frente tornam muito mais difícil saber quem são as pessoas reais e quem são perfis criados por inteligência artificial para convencer de alguma coisa. Estamos num outro patamar e vamos conviver com delírio gerado por essas inteligência artificial. Se não agirmos para frear isso logo, mais do que “dominar o mundo” ou roubar empregos, a inteligência artificial vai tirar nossa paz, nosso sossego.
Falando da Covid em si, como será nossa convivência com a doença daqui pra frente?
Estamos num momento em que dependemos de coisas que não estão sob nosso controle. Especialmente diante da falta de medidas que deveriam ser adotadas, como por exemplo mudar o padrão de ventilação de ambientes para se diminuir a quantidade de ar que respiramos uns dos outros. São medidas que reduziriam muito a transmissão de vários vírus respiratórios. Só que elas são difíceis de adotar, são caras e trabalhosas. Alguns países, como a Alemanha, financiaram esse tipo de conversão de espaços. Aqui, estamos dependendo, basicamente, de máscara e da imunidade das pessoas, despertada pela doença e pelas vacinas. A chave da contenção do vírus está nas mãos da evolução, que até aqui tem nos ajudado, mas não necessariamente vai continuar assim. O vírus está evoluindo num passo mais rápido do que outros, como o da gripe ou outros coronavírus. Tantas novas variantes inviabilizam a noção de imunidade de rebanho, que foi uma aposta cruel, totalmente incerta que não teria como dar certo. Apesar disso, as vacinas têm segurado bem os casos graves. No curto prazo, podemos esperar novas variantes e pequenas ondas, especialmente num período de sazonalidade como o inverno. O vírus deve cair nesse tipo de padrão e vamos conseguir reconhecer isso e coordenar campanhas de vacinação e de medidas mais orientadas quando houver picos de casos.
E no médio e longo prazo?
Vamos ter de ver em qual dinâmica ele vai estacionar, se vai continuar variando pouco e causando poucos casos graves ou se, como o vírus da gripe, vai trocar pedaços com vírus que circula em animais selvagens e soltar linhagens mais transmissíveis e que voltam a causar casos graves. Os coronavírus trocam pedaços, se misturam quando vírus diferentes infectam o mesmo animal ou a mesma pessoa. Ele tem essa capacidade de evolução, mas não temos sinal, até aqui, de que ele pode se misturar e gerar uma variante nova, de muito mais escape imune, a ponto de a vacina perder grande parte do efeito. Então, são dois cenários: ou as vacinas continuam funcionando e no máximo precisa de alguma renovação periódica, como com a vacina da gripe, ou teremos novas linhagens do coronavírus que voltam a causar casos graves e teremos de adotar fechamento e outras medidas até saírem vacinas atualizadas. Tudo indica que o cenário mais provável é o de pequenas variantes, de circulação constante, sem casos graves.
Outro desafio é o de tratar a Covid longa.
É difícil lidar com ela agora, porque basicamente todo mundo teve Covid no mundo nos últimos anos. Em alguns lugares, a taxa de ataque, que é a quantidade de pessoas que foram infectadas, chega quase 100%, como no Reino Unido. Fica cada vez mais difícil dissociar o que são coisas que acontecem normalmente com as pessoas do que foi de fato causado pela Covid. Por ser uma infecção nova, que causa vários efeitos no corpo e com tanta gente que pegou, é claro que ela gera sequelas. E isso acontece com outras doenças, como gripe, dengue, chikungunya, zika. As sequelas da Covid podem ser causadas por vários mecanismos diferentes, seja por causa do estrago que o vírus causa ou porque o corpo está aprendendo a reconhecer o vírus. Em algumas situações, as pessoas produziam anticorpos que reconheciam outras partes do corpo e as destruíam, como parece ser o caso do que gera a diabetes tipo 2. Muitas dessas condições não têm cura. Isso prova como jogamos com a sorte. Especialmente para quem se infectou antes das vacinas, quando a doença tinha mais chance de ser mais grave. As consequências disso são uma população mais doente, que vai ter de pagar junto com todo mundo, mesmo quem não ficou doente, por mais atendimento de saúde, por uma infraestrutura que vai ser mais demandada por causa desses corpos fragilizado pela Covid longa. Esse é o preço que pagamos por deixar as pessoas ficarem doentes, principalmente antes das vacinas.
Abaixa, que isso aí é rock’n’roll*
“O que mais pode um rapaz pobre fazer, exceto cantar numa banda de rock’n’roll?”, indagava Mick Jagger na seminal Street Fighting Man (YouTube), de 1968. Ele pode até cantar, mas vai ter de batalhar para ser ouvido. Pesquisadores da Universidade de Oldenburg, na Alemanha, demonstraram que, no rock em geral e no heavy metal em particular, o volume dos vocalistas numa gravação segue caindo em relação aos instrumentos que o acompanham. Na música (anglo-americana) como um todo, a queda se encerrou em meados dos anos 1970. Mas como é medido esse “abafamento” dos vocais e o que pode explicá-lo?
O segredo para compreender o peso do vocal numa gravação é um índice chamado Relação Entre Vocal e Acompanhamento (LAR, na sigla em inglês), medido em decibéis (dB), que compara o volume entre esses dois elementos da canção. O estudo desenvolvido pela universidade alemã (íntegra) analisou mais de 700 canções que entraram na parada anual de 100+ da revista Billboard, que combina números de execução e vendagem de compactos (era como chamávamos os singles quando falávamos português), entre 1946 e 2020. Numa segunda etapa, comparou o LAR nas quatro primeiras colocadas de cada ano.
Nesse ponto é necessário apontar uma ligeira distorção. Ao usar o 100+ de canções, a pesquisa ignorou álbuns. Em 1973, por exemplo, o disco mais vendido foi The Dark Side of the Moon (Spotify), do Pink Floyd. Aliás, o LP mais vendido de todos os tempos, com estimativa de 45 milhões de cópias desde então. Em seguida, veio Houses of the Holy (Spotify), do Led Zeppelin. Porém, nenhum de seus singles esteve no topo do 100+, encabeçado pela caretíssima Tie A Yellow Ribbon ‘Round The Ole Oak Tree (YouTube), do trio pop Tony Orlando and Dawn. Mais orientado para álbuns, o rock, especialmente nos anos 1970, pode estar subrepresentado na pesquisa.
Enfim... Analisando os LAR, a equipe comandada por Karsten Gerdes e Kai Siedenburg identificou uma queda contínua e acentuada de 1946, então em cerca de 7dB, até a metade dos anos 1970, quando a diferença de volume se estabilizou entre 1dB e 2dB na música em geral, índice que se mantém até os dias de hoje.
Para os pesquisadores, há uma explicação. Desde o início do processo de gravação, ainda no fim do século 19, vocais e instrumentos eram registrados numa única faixa. Para que vocal fosse audível e se compreendessem as letras, era necessário que o cantor ficasse o mais perto possível do microfone, e que este fosse ajustado num volume maior, jogando o LAR nas alturas. É assim que a voz adorável de Ethel Waters voa sobre o instrumental em Stormy Weather (YouTube), de 1933. Na década de 1950 começaram a ser introduzidas as mesas de gravação multicanais, que permitiam gravar separadamente vozes e instrumentos, possibilitando um ajuste mais preciso nas mixagens, ampliado depois pela tecnologia estereofônica.
E aqui introduzimos uma explicação complementar, que vai ser confirmada no terceiro braço do estudo alemão. A década de 1960 apresentou uma mudança de paradigma na música popular, mais claramente no rock, com a prevalência de grupos sobre cantores. Os processos de criação e gravação passaram a ser coletivos, solos instrumentais ganharam mais espaço nas canções, levando à sofisticação do rock entre 1966 e 1976. Por volta dessa época, a música popular atingiu o que se considerou um ponto ótimo, com LAR médio de até 2db.
Mas é possível colocar “música popular” toda no mesmo saco? Não. Pensando nisso, a equipe da Universidade de Oldenburg fez um terceiro levantamento, agora descolado da Billboard. Eles pegaram indicados ao Grammy entre 1990 e 2020 nas categorias relacionadas a country (93 canções), rap (83), pop (93), rock (83) e heavy metal (62) a fim de identificar as peculiaridades na mixagem de vocais em cada uma delas.
Vale aqui mais um reparo. Os votantes do Grammy entendem tanto de heavy metal quanto Donald Trump entende de respeito às mulheres. É antológica a cara de tacho de Alice Cooper e Lita Ford (YouTube) ao anunciarem, em 1989, que o primeiro Grammy de hard rock/metal iria para o folk progressivo Jethro Tull. E por um disco fraco, Crest of The Knave (Spotify). Além disso, os estilos de metal produzidos nos EUA e na Europa se separaram de forma acentuada a partir dos anos 1990, com o Grammy ignorando o segundo.
De volta ao estudo, ficou claro que cada estilo tem uma abordagem diferente em relação aos vocais. Descontando pontos fora da curva, como Lovesick Blues (Spotify), versão de Ryan Adams para o clássico de Hank Williams, com LAR de quase 20dB, as diferenças mais altas de volumes foram identificadas no country (3,9dB), no rap (3,2dB) e no pop (2,7dB). O rock ficou com LAR praticamente zerado, 0,2dB, enquanto o metal foi o único a apresentar relação negativa, com notáveis -3,1dB.
Dentro de cada gênero, a pesquisa apontou ainda uma discrepância nos vocais de cantores solo e vocalistas em bandas, com estes apresentando sempre um LAR menor, o que explica os resultados acima. Rap é uma sigla em inglês para ritmo e poesia, com ênfase nas rimas dos rappers, mesmo seus grupos são vocais. Não raro, o acompanhamento é feito sem músicos, apenas por um DJ. Country e pop, com exceções que confirmam a regra, são dominados por cantores, enquanto rock e metal têm predominância de grupos. Ronnie James Dio cantando Holy Diver (Spotify), como solista com uma banda de apoio, terá um LAR maior que em Sargazer (Spotify), onde era vocalista do Rainbow, liderado pelo guitarrista Ritchie Blackmore.
E aí está também a explicação para o LAR negativo do metal. Lá atrás, na virada dos anos 1960-70, o gênero foi estabelecido por bandas comandadas por guitarristas, o Led Zeppelin de Jimmy Page, o Black Sabbath de Tony Iommi e o Deep Purple, onde o citado Blackmore se imporia como motor criativo. Riffs e solos, em geral, são mais lembrados em muitas canções que os vocais. Não que estes sejam ignoráveis, longe disso, mas têm que entender que os holofotes não são só seus.
*Homenagem enviesada ao hino do saudoso Celso Blues Boy.
Reputação
As duas equipes buscam a vitória. Escanteio nos últimos segundos dos acréscimos. O time adversário vai todo pra área, goleiro inclusive. No bate-rebate, a zaga corta com um chutão que o encontra absolutamente sozinho no meio de campo. Ele corre com a bola. A torcida se levanta. Não há ninguém a sua frente, apenas um irretocável tapete verde, estendido, limpo, até a meta vazia do outro lado. As câmeras o enquadram por todos os ângulos enquanto ele avança, cabeça erguida e passadas largas, transmitidas via satélite. O goleiro voltando, desesperado por saber que jamais chegará. O locutor grita algo sobre herói do título. Nos bares lotados, o gole no copo é congelado pela luz da televisão. O silêncio que precede o estrondo, 40 minutos antes do nada, Umbabarauma homem-gol. Ele agora reduz o passo, basta empurrar pro gol vazio e abraçar a glória eterna. Sete metros e 32 centímetros de largura totalmente oferecidos. O treinador beija o massagista. A torcida já comemora. Ele vai entrar com bola e tudo. Está a dois passos do paraíso. A um passo da eternidade. É nessa hora que tropeça nas próprias pernas e cai de cara no chão. A bola rola, devagarinho, e sai pela linha de fundo. Ele cospe um tufo de grama. O árbitro apita, o jogo acaba. O treinador infarta. Suas últimas palavras são “aquele pereba maldito, ugh!”. A torcida xinga em uníssono: “Pereba! Pereba!”. O locutor engrossa o coro. A hashtag #pereba fica em primeiro lugar nos trending topics mundiais. O jornal do dia seguinte estampa a manchete “Pereba joga fora o sonho de uma nação”. O muro do CT amanhece pichado “Fora, pereba FDP!”. O diretor rasga o contrato do pereba na frente das câmeras. O programa esportivo de domingo reencena o lance decisivo com uma criança de fralda, um idoso de andador e um cachorro de três patas. Todos marcam “o gol que o pereba não fez”. Ele tenta um pedido de desculpas nas redes sociais, mas o Telegram solta uma nota condenando e pedindo que seus usuários façam pressão nos parlamentares “contra aquele pereba duma figa”. Sua família o abandona. O oficial de justiça chega com a notificação do divórcio endereçada ao senhor Pereba. É o fim de uma reputação.
Até que ele pensou e postou novamente em suas redes sociais: “Tá bom, gente, eu confesso: a verdade é que eu estou envolvido com a máfia das apostas. Fiz de propósito. Tudo armado. Podem acreditar. Afinal, quem perderia aquele gol, não é mesmo?”
O escândalo ocupou o noticiário, a sociedade exigiu providências. Foi banido definitivamente do esporte. E muito xingado. De pilantra, de safado, de desonesto... Mas de pereba, nunca mais. E isso bastava.
*Chargista do Meio, roteirista de TV, ilustrador e designer gráfico, Marcelo Martinez é também autor do livro infantojuvenil 'O Guia Secreto do SabeTudo das Copas', que esteve nas listas de mais vendidos em 2014 e 2018.
A semana foi de despedida de Rita Lee e do jornalista Bernardo de La Peña. Aqui estão os mais clicados pelos leitores:
1. Globo: O adeus a Bernardo de La Peña.
2. BBC: A coroação do Rei Charles III em imagens.
3. Globo: Uma galeria de fotos da padroeira da liberdade, Rita Lee.
4. Globo: Onze álbuns imperdíveis da rainha do rock brasileiro.
5. YouTube: Ponto de Partida — Chile: esquerda identitária elegeu direita radical.










